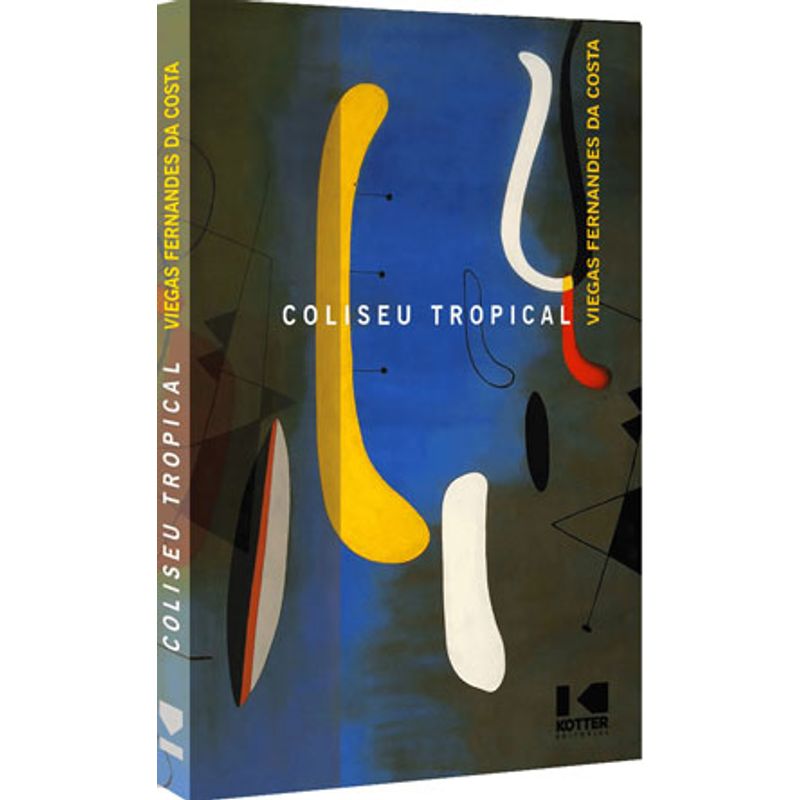Quando adentrei este Coliseu Tropical, achei que pisava as areias de uma arena. Quando saí, percebi que eram as areias de uma ampulheta.
Coliseu Tropical é o mais recente livro de Viegas Fernandes da Costa. Traz a mesma prosa poética comum aos trabalhos anteriores do autor, na maioria das vezes abrindo mão dos versos. A obra conta com um interessante trabalho gráfico da Editora Kotter, mas o ponto frágil fica por conta de escolhas de diagramação e soluções de tipografia que provavelmente passaram pela revisão, e “arranharam” um pouco a estética do miolo do livro. A bonita capa e o projeto gráfico compensam em parte estes — na visão deste leitor — deslizes. Mas tirando uns poucos momentos de quebra na imersão da leitura, o texto não chega a sofrer muito com isso.
O livro é uma obra sem dúvida atual e se propõe a combater (n)o seu tempo. Mas esse Coliseu que digladia com seu presente, ganha mais vida quando se entrega às reminiscências. Como no antigo palco romano, é por baixo da luta que se escondem as engrenagens e a riqueza que sustenta a arena.
A obra inicia agressiva com o tom crítico que parece guiar o livro, apontando ora os desgovernos que regem este conturbado 2021, ora as desigualdades que (já não) nos surpreendem em cada esquina, apontando chagas ou ideias incinerados sob uma lua de fogo.
Deste primeiro grupo de textos destaco justamente o tocante Lua de Fogo com as cinzas de um Pantanal ardente, e o sensível O Coveiro, que exuma a poesia do menino que sonhava “plantar pessoas na terra”. Apesar do lirismo, mesmo nestas peças o tom crítico e o olhar contemporâneo é presente. A partir da metade do livro, no entanto, ainda que o eco deste tom inicial frequentemente se faça ouvido, Coliseu Tropical tende a se voltar mais para dentro, e a obra parece crescer.
Reflexo de paisagens do Vale e do Litoral Catarinense, sótãos e velhas máquinas de escrever tomam as areias deste Coliseu, lembrando as areias que correm em uma ampulheta. “A memória”, diz o autor, “é, de algum modo, a falta que se faz presente”. E ela se faz presente em aforismos, poucos versos e na lembrança de personagens conhecidos daqueles que acompanham a obra do autor, como Ernesto ou o Onitorrinco, que aparecem “como barco insepulto ancorado na areia de um deserto que já fora mar”.
Como o homem de areia que dá título a um dos textos, é das areias que se ergue este Coliseu Tropical. Mas como o personagem, não cabe na ampulheta e vê a poesia nascida dos intestinos do mundo enquanto todos a buscavam na paisagem do horizonte. Viegas encontra poesia na paisagem da memória antes que ela, inevitavelmente, se dissolva no vazio. Como o homem de areia.
segunda-feira, 21 de junho de 2021
Areias de um Coliseu Tropical
segunda-feira, 15 de junho de 2020
despertador
sob estes sete graus
sob estas sete horas
da manhã que me impelem cama a fora
maldigo a razão do despejo
sem nem pensar
no moço triste que desde às cinco
que desde os cinco
[graus
já curva os anos verdes
costurando etiquetas
costurando etiquetas
costurando etiquetas no galpão que mistura no ar
a condensação do hálito
a condensação do hábito
a fiapos de algodão
olho lá fora esta manhã cinza
que o moço triste não vê
porque mantém os olhos na linha
porque mantém a vida na linha
porque esta linha é tudo
que o mantém a si
da janela do coletivo
embaçada
vejo a cidade
embaçada
sem nem pensar no moço triste que leva a vida
embasada
em etiquetas por minuto
tiquetaqueando contra o relógio
contra a agulha
torcendo pra linha não quebrar
sem nem pensar
no tipo triste que desde às sete
vê a cidade embaçada
na janela do coletivo que mistura no ar
a condensação do hálito
a condensação do hábito
a fiapos de ilusão
quarta-feira, 8 de maio de 2019
O Paraízo-Paraguay de Marcelo Labes
Um legado é uma semente guardada em uma caixa de madeira.
Um olhar sobre o Paraízo-Paraguay de Marcelo Labes.
Paraízo-Paraguay chega como a obra de estreia da Caiaponte Edições, capitaneada pelo próprio autor do livro, Marcelo Labes. Nascida pelo financiamento coletivo on-line, sob a égide da contemporaneidade, resta ainda ver os próximos passos da editora, que promete ao menos mais duas obras. Quanto a esta inicial, a primeira do autor em forma de romance, a edição não deixa nada a desejar. Uma obra bem acabada, de composição elegante. A capa em tons quase sépia traz as ruínas da Igreja de Humaytá e assim já introduz o tom do livro. Um tom que, apesar da novidade da prosa mais extensa do autor, mantém ainda ecos dos versos de trabalhos anteriores de Labes. E o mesmo olhar sobre um vale úmido, cheio de memórias que se pegam às paredes (e pessoas) feito bolor.
Uma história de vergonhas de uma guerra da qual já não se lembra, de lembranças de um passado celebrado que não se viveu. Legados recriados para encobrir destroços que deixamos. O Paraízo-Paraguay de Marcelo Labes é repleto deles. Que se sobrepõem saturando as cenas e os personagens, até precipitarem-se feito chuva pelas encostas do vale, carcomendo a terra, criando valas, expondo vazios que, quando encarados, refletem na vala cheia de água o rosto de quem observa.
Paraízo-Paraguay nos conta a saga de uma família — a seu modo — desde a geração que chegou na Colônia de Blumenau não muito após a chegada dos primeiros colonizadores. Um olhar diverso do mito hegemônico da colonização germânica nas colônias do sul do Brasil. O mito, claro está, do puro e intrépido desbravador branco, batalhador, que dobra à sua vontade a natureza de uma terra selvagem, feito o Crusoé de Defoe. E como o próprio Crusoé, o ideário do colonizador europeu subjugando a nova terra e seus selvagens. Uma memória imaginada e reimaginada até virar História.
O romance exorciza, talvez, alguns destes demônios ao colocá-los à luz. O faz, primeiramente, nos levando junto aos praças forçosamente recrutados para ir combater pelo Brasil na Guerra do Paraguai, para saldar a cota de homens do administrador da Colônia. Alemães e brasileiros lado a lado. Alemães que negavam a brasilidade na qual estavam enfurnados. Como estavam, feito os brasileiros, enfurnados igualmente entre os mesmos morros, entre as mesmas plantas e animais, entre as mesmas valas na mesma terra. Saudosos de uma Alemanha d'além mar que ainda viam como sua. Uma saudade, parece, incurável; ainda que a língua alemã talvez não a possa traduzir à perfeição.
Paraízo-Paraguay escancara essas feridas e lembra das cicatrizes que escondemos entre as dobras de nossos morros. Lembra também os nosso vários flertes com o fascismo e alguns dos preços que pagamos e, certamente, nos esquecemos.
Resgata sobretudo a atração quase mística de um legado. Seja de um passado pintado glorioso no Velho Mundo, seja perambulando pelas docas da velha Itajahy atrás de redenção, ou nas buscas para lá da fronteira paraguaia. Seja enterrado no nosso próprio quintal.
Para cada legado de administrador de colônia nas ruas principais, igrejas e registros oficiais, um sem-fim de outros legados serpenteia às margens do Itajaí-Açu. É quando ele transborda que todos se misturam. E Labes soube observar — e retratar — as marcas que deixam no lodo.
sábado, 6 de abril de 2019
Para sempre rio
 |
| Foto de Angelina Wittmann |
De manhã cedinho o sol não chegava a tocar o chão da floresta, que dormia sob seu dossel de copas orvalhadas. O velho pisava macio, pés descalços, para não acordar a mata. Já desperto há algumas horas, sorria vendo o dia clarear. De um lado a montanha esticava o pescoço a quase mil metros para espiar o nascente, do outro o assobiar do rio num chamado que acostumara ouvir desde muito.
Fora há mais de meio século que o rio vira o velho pela primeira vez. Ainda um rapazote imberbe, sem rugas, trejeitos ou as histórias que agora tanto cativavam as águas. Mas fora o suficiente para o rio se enamorar.
Cada vez que as pernas magras lhe penetravam o leito, o rio se contorcia em júbilo, lambendo-lhe as panturilhas, envolvendo-lhe em seus recantos. Mas logo o visitante ouvia o chamado da mata, de algum vizinho ou do fogão de chapa a crepitar em algum lugar. E o rio saudoso ficava ali, só lágrimas a correr por aqueles vales do sul.
Veio o tempo e com o seu condão transformou o menino em velho, arbusto em árvore, semente em planta. Só o rio continuava rio. Melancólico, saudoso e fluido, sempre a assobiar quando via o velho passar. Ao velho cresceu uma barba longa e prateada, que lhe cascateava queixo abaixo feito corrente brilhante à luz do sol. O rio se enamorou ainda mais.
Uma noite, saudoso, o rio não suportou e se ergueu do leito para procurar o velho. Chegou ao terreno, espiou a casa, mas não teve coragem de entrar. Chamou e esperou, mas o velho dormia, as barbas sobre o peito entre as paredes de madeira.
A gente da cidade não gostou do que viu:
— Rio assanhado, onde já se viu!?
Trouxeram uma máquina acordando a mata e construíram um muro para dar ao rio uma lição.
— É assim que se põe um rio nos prumos — disse o prefeitinho orgulhos.
O velho, de longe, trocando olhares com as águas, que espiavam lá do canto do seu cercado, feito criança que aprontou.
Mas a saudade, quando vem em ondas, não tem mar que aplaque, não há rio que aguente. Um dia, pouco antes do velho levantar, o rio se pôs a chamar. Foi tal a comoção que até o morro desceu para ver o que ocorria. E viu um rio que já não se continha. Sem resposta, o rio achou por bem bater à porta. Mas a emoção, em vagas, se transborda. E o rio pulou o muro e correu como nunca correra. Sem ligar para o que havia em frente veio tropeçando e saltando e arrastando o que via no caminho. A vizinhança assustada correu em debandada. O vizinho, o cachorro, o velho e quem mais podia. O rio alvorotado bateu à porta com tanta força que lhe arrancou dos batentes. Espiou à janela e a despedaçou. Procurou em cada canto e não encontrou o que tanto procurava. Nem velho nem paz para um coração turbilhante. Levou ainda, como lembrança, algumas coisas para embalar a saudade, enquanto na noite chorava a falta do velho que não encontrara.
Mas o que quer que carregasse, nada supria uma paixão de infância que ainda urgia. Logo o rio se cansou e devolveu às margens tudo o que pegou. Passou as noites a correr pelo vale em busca do velho. Pensando nas barbas caudalosas como um leito para se aninhar.
O tempo passou, o rio chorou, mas não cessou de chamar. Até que um dia, de repente, sentiu o peito borbulhar.
— É o velho! É o velho quem vem lá!
O rio se ergueu e se pôs a chamar. Encontrou o velho na antiga ponte onde volta e meia o via passear. O rio, arrebatado, mal podia se conter. O velho lhe sorriu e sentou-se para conversar, as pernas pendendo da ponta, a cascata de barbas pendendo do queixo, a cara estampada com aquela vida encravada naquela senda do sul da cidade, entre morros, matas e o rio. O rio se animou caudaloso, as emoções lhe transbordando as margens.
Quem mais tarde cruzou pela ponte se assustou com um corpo de bruços embalado pelas marolas que ululavam numa canção de ninar. Apressado, o visitante saltou à água e, com a corrente pela cintura, tentou desvirar o velho. À primeira tentativa, o peso impediu a manobra, era como se algo agarrasse-se ao peito do homem tombado. Uma nova investida e o recém-chegado conseguiu desvirar o velho, caindo ele, por sua vez, sentado na água. Foi quando viu, saltando do rio, como se saído do peito do homem, uma carpa avermelhada, tão rara por aquelas bandas. Quando caiu novamente na água, o tremular da corrente lhe dava um aspecto pulsante e, mesmo ao lusco-fusco do fim do dia, era como se a sua cor emanasse uma luminosidade brilhante enquanto o peixe nadava contra a corrente, rio acima, pulsando em vermelho. Tudo ocorreu rápido e, tão logo quanto pôde, o homem já estava com o velho nos braços, agora tão leve, quase como se estivesse vazio. Lá longe, rio acima, ainda podia ver um ponto vermelho pulsando no escuro, enquanto ao seu lado centenas de pontos brancos se revelavam de ambas as margens, com flores alvas se abrindo, uma a uma, por toda a extensão do rio, exalando um aroma que cobriu todo o leito, se derramou pelas encostas e se adensou pelo vale em uma elegia perfumada.
Meses depois, ninguém soube ao certo ainda o que aconteceu. Mais tarde, se contou, foi que o rio nunca mais se ergueu e, nos seus trechos mais caudalosos, dizem, um novo arrulhar se pode ouvir, como uma segunda voz a sussurrar na língua das águas ao fim do dia. Quando isso acontece, juram, as flores brancas se abrem novamente e lançam em coro seu perfume sobre as águas, lembrando o vale que bem à tardinha ainda brilha, em algum lugar, um vermelho vivo e pulsante naquele rio.
quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
Anjos de Barro
As três figuras pálidas e esguias pareciam desconsoladas. Não que fosse possível ver-lhes as feições escondidas pelas máscaras de gás escuras. Sequer os olhos podiam ser vistos pelos vidros baços das escotilhas por onde supostamente deveriam enxergar. Sobre as bocas e narizes, as protuberâncias arredondadas das máscaras davam-lhes um aspecto entomológico — ao menos é o que havia dito a crítica na matéria do jornal local. Mas se as feições permaneciam ocultas, os corpos nus de pele levemente amarelada, como que desbotados, mostravam-se expressivamente lânguidos. Os membros longos pareciam carecer de força. Os traços delgados, tão frágeis quanto as figuras, numa mimese propositalmente débil das poses sacras do classicismo. Os sexos diminutos e impúberes como sem importância ou utilidade. Eram três as figuras. As duas masculinas à direita, de pé, de uma androgenia apenas quebrada pela exposição dos sexos. A da esquerda, quase ajoelhada, com a feminilidade apenas revelada pelo semidespertar das mamas ainda verdes, apontadas para fora do quadro. Eram altas, as figuras. Tinham nas extremidades do corpo um tom acinzentado de fuligem, sutil mas perceptível. Pregadas às costas curvadas, as asas finas suspendiam penas embaralhadas, sujas de um matiz amarelo-acinzentado, muitas caindo. A figura ajoelhada segurava algumas das penas na mão, como se as tivesse recolhido do chão, dando-lhes uma sepultura mais digna entre os dedos delicados. No solo alguns detritos e fuligem combinavam com o fundo cinzento de formas um tanto indefinidas. Fuligem, detritos e gases. A obra estava cercada por um passepartout branco e largo somado a uma moldura da mesma brancura minimalista, enquanto o vidro antireflexo lhe protegida das luzes altas da galeria. Abaixo dela, na parede branca, um papel cartão de dez centímetros de comprimento trazia em letras negras: “Anjos de Fukushima — Ariel Ângelo (2011)”
No recorte de jornal de mais de um ano atrás, nem todos esses detalhes podiam ser vistos com clareza. Mas estavam-lhe pintados na memória como se fossem uma têmpera milenar. Podia lembrar-se, inclusive, de várias das pinceladas. As mais significativas, as mais difíceis, as mais surpreendentes. Agora estava distante da galeria. Das matérias todas lhe restara apenas esse recorte fisgado no quadro de cortiça pendurado na parede.
Olhou distante o cavalete coberto pelo lençol claro e velho. Agora ele se encontrava mais ao centro da sala. No dia anterior havia sido retirado do canto onde estava para um lugar onde fosse visto por ele com mais frequência. Era mais uma tentativa. Quem sabe amanhã.
Acordou no dia seguinte mais disposto. O sol da manhã banhava a casinha de madeira no meio do mato, filtrado por árvores altas que desprendiam no vento folhas secas e um aroma fresco. O assoalho de madeira rangia baixinho, como se quisesse acordar alguém bem aos poucos, sem sustos. A chaleira despertou com um chiado e o café dentro do coador de pano foi banhado, retribuindo o cheiro das árvores com um perfume animador. O som dos pássaros entrou voando pela janela aberta, pintando rodamoinhos na fumaça branca do café.
Ângelo mirava por sobre a borda da caneca o lençol sob o qual o cavalete ainda dormia preguiçoso. Saiu da pequena cozinha deixando o forno à lenha crepitando umas poucas varetas. Caminhou pela sala, passou pelo cavalete como quem não quer nada e, com um gesto rápido, sacou-lhe o lençol descobrindo a tela vazia. Sem sequer olhá-la de relance, continuou seu caminho, caneca em punho, porta a fora.
O orvalho estava praticamente seco. A rodovia secundária que passava em frente à casa se perdia silenciosa na paisagem que revelava lagos ao longe, algumas plantações, uma floresta mais afastada e uma ou outra casinha aqui e ali. Junto à cerca, as flores se refestelavam ao sol macio da manhã. Estavam tão bem nutridas quanto ele. Bem podadas, regadas, adubadas. Era dia, inclusive, da aplicação do adubo. Ficou satisfeito com a lembrança. Seu Telúrio era um bom sujeito. Prepararia o mate que ele tanto gostava, trocariam uns causos e umas baforadas no fim da tarde. Seria um bom e calmo dia.
Uns quarenta minutos depois retornou à casa. Cruzou a porta e passou novamente pela tela. Desta vez parou. Por muito tempo não estivera ali. Virou-se devagar e encarou a tela branca. Procurou alguma coisa no fundo da xícara suja de resto de café. Devagar, como que para não afungentar um pássaro que canta num galho próximo mas que mal se enxerga, pegou o primeiro pincel ao alcance. Com o mesmo cuidado foi mergulhando-o na xícara, evitando tocar-lhe as beiradas. Deixou as cerdas descansarem no resto do líquido. Tirou o pincel com a atenção de um cirurgião e levou-o em direção à tela. Uma gota se agarrando às cerdas feito um ovo negro pronto a eclodir.
Triiiiiiiiiiimm!
O telefone tocou estridente. Um susto, o tremer da mão, a gota de café se espatifando no chão de madeira. A raiva. O pássaro voara. A frustração. Triiiiiiiiiiimm! Um suspiro longo antes de pousar o pincel inerte na base do cavalete. Triiiiiiiiiiimm! Correu até a pia e largou a xícara suja. Triiiiiiiiiiimm! Com passos pesados retornou à sala para calar o aparelho. Triiii — "Quem é?"
Era o agente. Queria saber como iam as coisas. Sim, sim, iam bem. Como estava o clima? Estava bom, agradável. Não-sei-quem estava com uma exposição em algum lugar, talvez quisesse dar uma olhada. Sim, sim, parecia interessante. Que bom.
Era evidente que ele estava circundando. Queria evitar uma pergunta direta, mas não sabia como. Não seria Ângelo que lhe daria a deixa. Logo o silêncio inevitável se instalou. Sem outra saída, o agente fez a pergunta, da forma mais vaga e menos agressiva que podia: "E você, conseguindo alguma coisa?"
— Alguma coisa. Bem no começo ainda, mas acho que já é alguma coisa.
Mentiu. Talvez o agente até soubesse mas isso não importava.
— Que bom. O refúgio aí no meio do mato está dando resultado, pelo visto.
A ideia havia sido dele. Coisa de agente.
— Pelo visto.
Não era uma má ideia, o lugar era até agradável. E foi bom estar sozinho, pelo menos.
— Bom, fico feliz. Vou deixar você trabalhar. Se tiver novidades ou precisar de alguma coisa, é só ligar.
Ficaram assim combinados. A tela branca no cavalete ouvira toda a conversa. Ele a olhou enquanto colocava o telefone no gancho. Aproximou-se, encarou-lhe a brancura. Mirou o pincel adormecido e saiu novamente deixando a porta da frente bater. No chão, a gota preta foi se infiltrando na madeira, se agarrando às ranhuras e se instalou entre os veios.
Horas mais tarde estava novamente frente à tela. Na mesa de apoio que puxou para perto do cavalete, a paleta permanecia inerte, mas já abrigava dois pequenos montes de tinta, ainda intocados. Os tubos recém abertos deitados ao lado. Com o pincel brincou com as cores na própria paleta. Apenas revolvendo a tinta como se averiguando a textura. Não tinha pressa. O som de um motor velho se fez ouvir à distância. De vez em quando uns estouros, e lá vinha ele, solavancando pela estrada como se acometido por um acesso de tosse. Ângelo sorriu para si. Tomou a paleta nas mãos mas continuou brincando com a tinta, olhando a tela e ouvindo o som se aproximar.
Dois estouros altos indicaram que a tobata velha dobrara a esquina da entrada do terreno e passara a porteira deixada aberta. O barulho estava bem perto, quase na porta da frente. Esperou até ouvir o último estouro e o motor silenciar. Pousou a paleta e o pincel novamente na mesa de apoio, foi ao fogão para atirar mais um pedaço de lenha ao fogo e saiu pela porta se sentindo mais leve.
"'Taaaaarde!" O cumprimento veio arrastado logo depois de uma cusparada no chão, e seguido de um sorriso de dentes amarelados e um acenar do chapéu de palha de abas largas. Ângelo se recostou no batente da porta e acenou de volta com um sorriso enquanto o velho apeava da tobata que trazia, à reboque, as sacas de adubo.
Era quase fim da tarde mas o sol permanecia forte. A pele tisnada e sulcada do velho brilhava com um suor que não escorria.
— Boa tarde, Seu Telúrio.
— Tá bão, Seu Ariel?
— Tudo bem. E com o senhor?
— Com a graça de deus. Trouxe as titica pras suas flor.
— E fica pra um mate?
— Se o senhor não deixar a água ferver dessa vez, eu fico.
Chaleira no fogo, Ângelo arrumava a erva com os dedos dentro da cuia enquanto o velho Telúrio enrolava outro tanto dentro de um cartucho de palha de milho, fitando meio curioso a tela ainda branca na sala. Com a chegada do anfitrião — cuia numa mão, garrafa térmica na outra — o velho disparou, depois de certificar a firmeza do cigarro recém-montado:
— Inda não conseguiu começar, né?
— Ainda não. É mais difícil do que parece.
— Deve de ser. O senhor tá há um tempão aqui e continua tudo numa brancura só.
A conversa continuou na varanda do lado de fora da casa. A água fazendo a cuia soltar baforadas brancas daqui, o fogo fazendo o palheiro soltar baforadas brancas de lá.
— O senhor tem razão, Seu Telúrio. Estou há um tempão aqui, né?
— Logo, logo volta o verão e isso aqui vai ficar quente de secar bosta outra vez. O senhor lembra como tava o clima quando chegou aqui?
— É verdade. Era inverno, um frio danado. O capim amanhecia todo branco.
— Agora tá verde — o velho soprou uma nuvem branca como para comparar as cores.
Ângelo suspirou um riso, tornou a encher a cuia e passou para o velho Telúrio.
— Ainda bem que a cabana já era climatizada. Tenho que lembrar de agradecer ao Hermes.
— Ele que mandou o senhor pra cá?
— É. Ele que deu a ideia. Disse que ia ser bom para espairecer. Só não disse que era tão frio no inverno. Não sei como o senhor aguenta.
— Ora, como todo mundo! — respondeu o vendedor de titica, passando o palheiro fumegante.
— Mas o senhor não sente frio, não?
— Sinto, sim, senhor. No inverno eu sinto frio. Quando tá quente eu sinto calor. Quando tem brisa, eu sinto o vento.
— Eu não... — e ficou um tempo olhando a fumaça que lhe saía dos lábios num cone nevoento — Frio ou quente, eu não sinto a menor diferença ali dentro. É como se estivesse sempre tudo igual.
— Quando a gente tá num lugar assim, só sente alguma coisa mesmo quando sai de casa.
— Pode ser, Seu Telúrio, pode ser.
— Inté porque, se o senhor tá procurando alguma coisa nova, de que adianta procurar no mesmo lugar de sempre?
— Mas eu não estou aqui desde o inverno? Não vim para um lugar diferente? Até agora não me pintou uma só ideia nova que preste, só merda!
— E o que tem de mais nisso? — Cuspiu no chão e devolveu a cuia.
Ângelo atirou o toco final do palheiro acabado no capim e tornou a encher o recipiente. O velho continuou:
— Se é só isso que o senhor tem até agora, tem que fazer brotar alguma coisa disso. Eu também já tava numa situação que só tinha me sobrado duas galinha poedeira e um quintal cheio de titica. Pois não tô eu aqui vendendo titica pro senhor e pra mais uma porção de gente? Os seus canteiro não tão mais bonito por causa dessa titica toda?
— O canteiro até está mais bonito com a titica, Seu Telúrio. Mas se a gente mexer com ela, vai feder.
— Mas se não mexer, vai secar. E daí não adianta nada. Só se mexer é que vai nascer alguma coisa. No final das conta, se não feder, não floresce nada.
Terminaram a conversa falando da aplicação do adubo nos canteiros, dos cuidados de poda e do controle de pragas. Seu Telúrio ficara de trazer algumas de suas galinhas temporariamente para que se alimentassem das pragas e de quebra já produzissem titica para que o canteiro florescesse. Assim, dividindo conversas de esterco, pétalas e beleza, assistiram a tela branca das nuvens ganhar as pinceladas rosadas do poente.
A garrafa térmica ficou leve, o sol ficou baixo e a tobata tornou a soar já no início da noite. O som do motor foi sumindo estrada abaixo, deixando no ar apenas o cheiro do adubo nos canteiros.
Meses depois, longe dali, não fazia nem frio nem calor. A brisa constante do ar condicionado mantinha o ambiente de paredes brancas a constantes vinte e dois graus. A tobata não mais se ouvia. No seu lugar um burburinho de gente falando. No lugar do mate dividido na bomba, taças de cristal e um espumante indicado por Hermes. No lugar dos canteiros floridos, eram admiradas telas nas paredes por pessoas com expressões compenetradas. No dia seguinte os jornais enalteceriam a nova exposição de Ariel Ângelo, destacando o contraste com seu último trabalho. Em "Anjos de Barro" o autor se distanciava do seu universo pós-apocalíptico e retornava a origens mais orgânicas. Os tons terrosos suplantando o cinza-amarelado de seus trabalhos anteriores. Os anjos buscavam um retorno à essência, diriam. No canto da sala, o pintor apreciava a paisagem. Rostos sorridentes, enfadados, admiradores, amigos, alguns empolgados outros mantendo uma presença protocolar. Notou com curiosidade a filha de um casal amigo, que olhava um dos anjos com perplexidade. Se afastava e se aproximava do quadro com um olhar curioso. Olhou a obra de frente, mirou de lado. Foi se aproximando da tela. O rosto levemente inclinado para cima, bem próximo das pinceladas. Ângelo riu quando a viu contorcer de repente o nariz e afastar-se rápido, com uma careta, olhando o anjo de tons terrosos perplexa. Imaginou se os jornais relatariam também, no dia seguinte, o aroma peculiar dos Anjos de Barro.
quarta-feira, 24 de agosto de 2011
Reflexos de Adriana
Reflexos de Adriana
Um aporte sobre a protagonista de Aguardo, de Gregory Haertel
por Rodrigo Oliveira
até as montanhas viram ilhas.
Enquanto lia Aguardo as águas do Itajaí-Açú subiam e desciam como se provocadas, pressentindo a evocação de memórias amarelecidas feito um fotograma antigo ou velhas marcas barrentas sobre paredes brancas. Na janela explodiam gordas gotas marcando o tamborilar de cada sílaba. Os vidros embaçados refletindo a turbidez deste primeiro romance de Gregory Haertel.
 Para contextualizar o leitor menos familiar com a literatura catarinense, em especial a blumenauense (e, sejamos francos, são a maioria) Aguardo é dividido em 10 capítulos, cada um com nome de um personagem sobre o qual aquele momento da história se debruça. O romance não segue uma linha cronológica fixa. Alguns capítulos levam o leitor a alguns anos no passado, mas todos os personagens e acontecimentos são mais ou menos contemporâneos entre si. Esse entrelaçar de momentos e personagens, a característica de complementação que cada capítulo tem com os demais e a própria temática geral ressaltam uma grande semelhança com o conto Ensaio para Orquestra e Coro de Chuva, presente em Quarteto de cordas para enforcamento, do mesmo autor. A influência de uma obra sobre a outra é marcante.
Para contextualizar o leitor menos familiar com a literatura catarinense, em especial a blumenauense (e, sejamos francos, são a maioria) Aguardo é dividido em 10 capítulos, cada um com nome de um personagem sobre o qual aquele momento da história se debruça. O romance não segue uma linha cronológica fixa. Alguns capítulos levam o leitor a alguns anos no passado, mas todos os personagens e acontecimentos são mais ou menos contemporâneos entre si. Esse entrelaçar de momentos e personagens, a característica de complementação que cada capítulo tem com os demais e a própria temática geral ressaltam uma grande semelhança com o conto Ensaio para Orquestra e Coro de Chuva, presente em Quarteto de cordas para enforcamento, do mesmo autor. A influência de uma obra sobre a outra é marcante.
Aguardo é um novelo tirado da lama, convidando o leitor a lhe desembaraçar os fios. Cada fio puxado revela um personagem e, impregnado nele, um pouco da história dessa provinciana cidade encravada no meio de um vale, cortada por um rio e nomeada segundo o sobrenome de seu fundador. É inevitável, ao ler o romance, ver na obra uma caricatura de Blumenau, cidade catarinense em que vive o autor.
O primeiro fio que desponta desse novelo é Adriana. É neste primeiro capítulo que encontramos a breve apresentação da cidade de Aguardo. A esse primeiro contato, alagada sob as águas de uma enchente que toma as ruas, encontramos nossa protagonista. Encolhida em um canto do apartamento, feito ilha em meio às águas e à chuva que cai sem pausa. Está sozinha. A mãe morrera vítima de tifo; o filho, caído pela janela do apartamento (em uma cena que lembra o prólogo do Anticristo, do cineasta dinamarquês Lars von Trier, ainda que sem a mesma beleza estética ou a mesma poética); pelo pai da criança, abandonada; o próprio pai, nunca teve. Uma ilha em meio a águas barrentas. Talvez essa seja de fato a imagem mais icônica do romance. Às vezes cercados pela água, sempre isolados. Pela água, pela lama — figurada ou não — pela frieza, pela sujeira. Quando as águas sobem, até as montanhas viram ilhas. Também as pessoas.
Essa primeira aparição de Adriana difere, em estrutura e função, da história dos demais personagens (são sete os de maior importância). É essa diferença, e a maneira como foi tratada no decorrer da história, que chamou-me a atenção e despertou-me a escrever esse aporte. Adriana — e todo o capítulo que leva seu nome — servem como cicerones do leitor. Sua história tem o objetivo inicial de nos apresentar a cidade de que trata o livro e alguns breves vislumbres de outros personagens, além de ditar o tom narrativo da obra. Nesse trecho, o texto parece ter um plano mais aberto (para usar uma linguagem cinematográfica) da história. Como se tivéssemos uma câmera de enquandramento amplo, que percorre, panorâmica, várias direções, nos revelando o cenário e o contexto. Os capítulos seguintes, mais centrados nos outros personagens, já lançam mão de planos mais fechados, a narrativa centrada em seus próprios “protagonistas”, ainda que exporádicas inserções de outros personagens ou passagens ainda aconteçam. Mas o texto, após o primeiro capítulo, cerca muito mais seus personagens, expõe-lhes as imperfeições, quase sufocando-os com a proximidade da presença do leitor. Em Adriana é diferente.
Esse estratagema literário teve sua importância para situar o leitor mais rapidamente na obra, para colocar as engrenagens da história em movimento e para evitar interrupções futuras no desenrolar da trama dos personagens que ainda viriam a aparecer. No entanto, reforço: o artifício cobrou seu preço da personagem anfitriã. Adriana, quando comparada com os demais personagens, é vista a uma distância muito maior pelo leitor. Não nos é possível, a altura do primeiro capítulo, uma maior aproximação. Essa própria situação se reflete metaforicamente no próprio texto. A cidade alagada, as pessoas ilhadas em suas casas. A recomendação das autoridades é o uso de cores vibrantes para facilitar a localização pelas equipes de resgate: “pendurar vestimentas de cores fortes no lado de fora da janela para que o resgate nos encontrasse.” (p.18). Adriana, deliberadamente, troca de roupas: “Troco a minha camisa vermelha por uma bege. Dispo o jeans. Coloco uma malha preta do tempo em que eu fazia ginástica. Fecho as cortinas” (p.18). A equipe de resgate se aproxima, ela se esconde. Evita o contato. Com a equipe, com o leitor. No canto da sala do apartamento usa suas memórias para desviar os olhos desse mesmo leitor para Aguardo. Por hora, ela permanece ilhada. Inacessível mesmo para quem lê sua história.
Essa falta de proximidade é, no entanto, “corrigida”, por assim dizer, mais adiante. Adriana participa em pontas aqui e ali nos capítulos dos demais personagens, permitindo que, bem aos poucos, o leitor vá se aproximando. Adiante começa a ganhar mais profundidade. O próprio sexto capítulo, nomeado Ricardo, parece muito mais uma desculpa para nos aproximarmos de Adriana. Ricardo — o pai do filho morto de Adriana — mesmo em seu capítulo, age mais como um “escada” para a atuação da anfitriã da história, do que como o protagonista de seu capítulo. A metáfora do isolamento-aproximação se repete. Aqui o leitor se aproxima mais enfaticamente de Adriana, o que se reflete nos elementos usados na construção do texto. No lugar da camisa bege e da malha preta que a ocultavam, encontramos a personagem trajando apenas um roupão semiaberto, deixando perceber parte de sua nudez. Não há sensualidade na cena, no entanto. Esse vislumbre de nudez reflete muito mais uma falta de proteção. Adriana permanece “Estática, perpendicular ao local onde a massa de Matias estivera [o filho], (...)” (p.112). É a falta que revela a personagem. Que faz com que ela não tenha mais como se ocultar do leitor.
O mesmo recurso de aproximação e aprofundamento na personagem se repete no último capítulo, com ainda mais ênfase. Tornando o contato do leitor com a personagem anfitriã finalmente mais intenso do que com os demais personagens. O leitor se aproxima definitivamente de Adriana. Sufoca-lhe com sua presença. Sente-lhe os odores. Pressionada, ela se revela e se despe como nenhum personagem o fez. Expõe-se e se entrega. Ao leitor e a si mesma.
Todo o último capítulo, nomeado “Matias” é mais um artifício para recolocar o foco sobre Adriana. Agora literal e figuradamente nua, coberta apenas pela lama, pelo mau cheiro, pela falta. Coberta apenas e, afinal, pela presença do leitor. Não há camisa bege, malha negra ou roupão semiaberto. Há apenas a exposição, a falta (de tudo) e o “cheiro dos porcos [que] inundava o quarto do mesmo jeito que as águas do rio haviam emporcalhado Aguardo”. (p. 173).
O livro orbita e se desenvolve ao redor da transformação de Adriana. Ao abrirmos Aguardo é ela a primeira personagem com quem nos deparamos. Ao fecharmos o romance é ela a última de quem nos despedimos. Quando a encontramos pela primeira vez, estava no apartamento reclusa, protegida, oculta. Quando deixamos Aguardo é com a imagem de uma Adriana na estrada, exposta e totalmente desprotegida. Sem nada. A transformação se dá não apenas aos olhos do leitor, mas aos da própria personagem. No início do romance, nas primeiras linhas, temos Adriana com os olhos refletidos na água turva. Temos aqui a turbidez da água como reflexo da personagem. Tão marcante quanto o fato de Adriana olhar para baixo. É olhando para baixo que ela vê (e vê-se) apenas turbidez. No último capítulo, Gregory Haertel encerra seu romance com um paralelo da cena de abertura. Temos novamente Adriana vendo a si mesma refletida. Agora no espelho do teto sobre a cama onde se encontra. Está nua. Agora, no lugar da tubidez, seus olhos no espelho refletem uma imagem muito mais nítida. Se agradável ou não, ao menos transparente. Para ver-se, já não olha para baixo. É olhando para si que se enxerga. Ergue os olhos e não vê mais turbinez. Vê-se em sua nudez e desproteção. Vê-se em sua falta. Mas vê-se lavada, vê-se nítida. Vê finalmente a si mesma.
Assim, Aguardo é-nos apresentada por essa protagonista. Que se apresenta distante e da qual o leitor só consegue se aproximar à medida em que ela se despoja de tudo, inclusive da lama que lhe cerca e lhe cobre. Quando não tem mais nada, apenas, se revela. Nesse momento derradeiro, encontramos finalmente nossa protagonista. Deitada numa cama, nua, refletida no espelho do teto de uma espelunca. Expôs-se tanto, que virou duas. Quem sabe agora, enxergando-se de frente e exposta, poderá encontrar-se.
terça-feira, 19 de abril de 2011
Selenita na Furb TV

Tá até o Félix atualizou o blog dele. Sinal que era hora de mexer nas coisas por aqui.
Em breve posto mais um texto, mas por hora deixo a entrevista cedida a Viegas Fernandes da Costa, editor do Sarau Eletrônico, no programa Dica de Literatura da FURB TV.
Para quem quiser ver minha cara de assustado, suado de chegar em cima da hora ou só curtir uma vergonha alheia, é só acessar o vídeo aqui ou clicar na imagem ali em cima.
quarta-feira, 12 de janeiro de 2011
Lançamento Selenita - Fotos

A pedidos, algumas fotos do lançamento de Selenita, que ocorreu em dezembro do ano passado no Butiquin Wollstein em Blumenau - SC. A um clique na imagem ela amplia.
Algumas fotos não são de fato do dia do lançamento, mas da participação de Selenita no 4º Bazar EstiloArte e do encontro com o poeta curitibano m.r. mello. Mas como é a mesma temática, tá valendo.
segunda-feira, 22 de novembro de 2010
Orelha de Selenita

Selenita tem o prazer de ser lançado bem representado. Esse é o texto da orelha do livro, escrito por Viegas Fernandes da Costa. Chega de introdução. Sigo com as palavras de Viegas.
Selena, aquela que “rodopiava pela grama sem espantar o orvalho”, tão leve, “orbitava a vida, de saia rodada rodando o mundo”. Eis a palavra sensível de Rodrigo Oliveira, capaz de perceber Selena onde todos percebemos multidão, capaz de notar um moinho “em um tempo que já não enxerga gigantes”. Nestes dias que correm, de tantas palavras ocas, Rodrigo é Quixote que se entrega, tal qual um dos seus personagens, à sopa de verbo ainda que na pobreza de víveres, e assim sabemos, soledade, da existência de velho Genaro, apaixonado por Cida, no Cine L’Amour. Amor pornô? – indagamos. E a resposta nos surge como uma Macabéa travestida de senhor, de cinema, de saudade. “Selenita” – primeiro livro de Rodrigo Oliveira – nasce assim sob o signo do engenho e da sensibilidade. O engenho de Maira Maíra, que “mastigou mato maligno, minguando muda”, e a sensibilidade de um narrador capaz de ouvir os homens do mar, atracados na praia e na miragem.
Os 21 contos que compõem “Selenita”, distribuídos em dois “quinhões” – o primeiro, cartografia da alma; o segundo, engenharia narrativa – , apresentam-nos um autor que surpreende com seu universo temático e o requintado uso da palavra. Em alguns contos somos desafiados a um jogo, como quando perguntados a respeito do protagonista (“quem é o protagonista?”); em outros, o convite ao inusitado e ao extraordinário. Neste pêndulo, Rodrigo nos convida a conhecer a árvore de Herr Voss, acomodados sobre as possibilidades de um Fokker Dreidecker, “a estática do ar passando ligeiro por suas asas”; bem como nos remete ao já distante ano de 1920, onde os “Irmãos Van Loon” competiam pelos Países Baixos o cabo-de-guerra nas Olimpíadas. São textos mágicos estes de Herr Voss, Van Loon! Textos de uma tradição narrativa que um dia quase perdemos em meio aos tantos experimentalismos literários, mas que “Selenita” nos devolve com a força da criatividade e da fabulação. A mesma fabulação que nos coloca em suspenso aguardando as sete badaladas, ou investigando gárgulas no interior campestre de uma França que não mais cremos, mas que está lá!
Há de se fazer a travessia, Leitor, neste principado de um livro pleno! Há de se tomar “o último café de Peter”. O convite está feito, e vale a pena!
quinta-feira, 18 de novembro de 2010
terça-feira, 16 de novembro de 2010
Selenita - Lançamento

Data agendada: 07 de dezembro de 2010, no Butiquin Wollstein, será a noite de lançamento de Selenita.
Ainda faço um email mkt decente e posto aqui o convite oficial. Mas por hora fica esse lembrete.
quinta-feira, 11 de novembro de 2010
Feiras, Fóruns e Livros
Em Blumenau, o evento teve participação de diversas entidades locais contou com um programação de se dividiu em diferentes horários e locais, mas o principais debates e eventos aconteceram na Fundação Cultural de Blumenau. Talvez esteja aí, um dos motivos do desastroso fracasso do evento. Não desmerecendo a já tão maltrada, escanteada e mal cuidada Fundação, mas enconder os debates e a feira nos seus recônditos esperando adesão do público foi, para não ofender ninguém, no mínimo ingenuidade. Não bastasse estar escondida nos vãos da Fundação, quem quer que passasse em frente ao prédio nem saberia do evento. Sem sinalização, sem movimento, se a Fundação estivesse fechada não se perceberia diferença.
Em contrapartida, em Brusque, as lonas brancas da Feira do Livro de Brusque ocuparam a recém inaugurada Praça do Sesquicentenário. Não é preciso dizer que o movimento lá foi muito maior. Famílias passeando no parque, brincando nos playgrounds, observando a fonte e todo o movimento em torno das lonas. Todo o movimento gerado para a Feira? Obviamente não. Não obstante, a curiosidade impulsionou muita gente para baixo das lonas, o evento ganhou movimento, ganhou vida. É verdade que nos estandes empenhados nas vendas dos livros o destaque se manteve mesmo por volumes de auto-ajuda, livretos comerciais infantis de ilustração pasteurizada, mas com um número razoável de exceções.
Enquanto isso, no pátio interno da Fundação Cultural de Blumenau um estande apresentava um pouco de tudo, parecendo miúdo no pátio vazio. O mesmo expositor estava ao mesmo tempo nas duas feiras e, terminados os eventos, fiquei curioso em saber do resultado, de qual das duas lhe tenha sido mais interessante.
Fui em três dias no Fórum blumenauense. O primeiro apresentou um público de pouquíssimas pessoas e um fraco corpo de debatedores formado pelos organizadores/apoiadores do evento. As reflexões de maior contribuição neste dia vieram da minguada plateia. A segunda visita foi mais proveitosa, os debatores trouxeram visões e discussões mais proveitosas e algumas referências diferentes — a mesa nesse dia foi formada por Carlos Henrique Schroeder (creio que radicado em Jaraguá do Sul), Joca Terron (MT/SP) e Sérgio Fantini (MG). Na última oportunidade a plateia estava — de estudantes (de ensino médio suponho) de algum colégio da região. Um público díspar do tema do dia: "Mercado Editorial". Excetuando-se esses alunos, o mesmo público diminuto.
Em Brusque, a feira contava com um grande atração, com o nome de Moacyr Scliar capitaneando a Feira. Não fui à palestra de Scliar, agendada para o meio da tarde de um dia de semana. Mas pensando a feira como um evento de forma profissional, ainda assim o nome de uma grande atração nacional obviamente atrai alguma atenção e holofotes da mídia e reforça de certa forma a imagem do evento. No sábado, dia em que fui a feira, assistia a algumas contações de histórias, com destaque para Afrocontos, Afrocantos, com Toni Edson (Florianópolis). Ao fim um café com escritores com Alcides Buss, de Florianópolis, e outros escritores locais. Por mais que a Feira do Livro de Brusque tenha sido muito melhor organizada e executada que o Fórum de Literatura de Blumenau, esse café deixou um gosto amargo ao fim do evento. A plateia era quase toda formada por esses escritores — faço aqui um forte esforço para não colocar entre aspas a palavra. O debate começou com uma "breve" (dessa vez não resiste às aspas) apresentação de cada um. Talvez o mais breve tenha sido o convidado principal, Alcides Buss. O restante da apresentação se alongou em um mar de "eus" e "meus" pouco produtivo, seguido por sessões de auto-ajuda, motivação e aves cujos olhos falavam de amor incondicional (nem perguntem!). Buss ficou como uma boia de sensatez onde alguns tentavam se agarrar enquanto viam o tal café naufragar. Talvez aí identifique-se uma fragilidade dos eventos de escritores locais: a pobreza de matéria-prima. Ou a abundância de correlatos e "wannabes" que soprepujam as iniciativas de certa valia literária.
Ao fim das contas e avaliações há muito o que se fazer na região. As iniciativas são poucas e lembro que não tiro a valia desses esforços, ainda que acanhados a atrapalhados. Mas é preciso pensar o evento de forma profissional, traçar objetivos claros, pensá-lo mercadologicamente e como fomento cultural; como gerador de leitores, escritores e críticos; como fazer artístico e social. É preciso mais seriedade e bom senso e menos confetes e autoadulação.
quarta-feira, 10 de novembro de 2010
Selenita - Novidades
Falta a montagem final: colar a capa e refilar.
Em paralelo, as conversas sobre distribuição e lançamento também estão em andamento.
Não falta muito agora...
segunda-feira, 1 de novembro de 2010
Selenita - Andamento II
Em tempo, acompanhei em parte e recentemente o Forum Brasileiro de Literatura de Blumenau e a Feira do Livro de Brusque. Impressões mais adiante por aqui (se eu não encontrar nada mais divertido para fazer).
quarta-feira, 27 de outubro de 2010
Selenita - Andamento
segunda-feira, 3 de maio de 2010
O Impostor de Maicon Tenfen
O Impostor é composto por dez contos que se alternam entre temáticas de horror e suspense, policiais de narrativas urbanas e causos interioranos. O leitor é conduzido habilmente a experimentar um apanhado de emoções diferentes — e até contraditórias — ao passar de um conto a outro. E conduzido, talvez seja realmente uma palavra apropriada ao caso. O maior destaque do livro fica por conta das habilidades do autor de conduzir e de envolver o leitor. Tenfen demonstra, também nessas narrativas curtas, um hábil domínio da tessitura do texto. O Impostor é, antes de mais nada, um conjunto de histórias contadas com maestria. Percebe-se um aprumo técnico que suplanta com desenvoltura os desafios do espaço restrito de um conto.
O romance, enquanto gênero narrativo, ao mesmo tempo em que exige fôlego maior do autor em sua construção, permite-lhe, em contrapartida, resgatar o leitor após algum deslize, após um ou outro parágrafo não tão magistral. O conto, por sua vez, ainda que exija, em princípio, um menor período de composição, é implacável com habilidades do autor de arrebatar o leitor. Uma passagem mal desenvolvida ou um final mal resolvido podem, em uma história curta, mostrarem-se desastrosos e por todo um conto a perder.
Tenfen demonstra em O Impostor que consegue, mesmo em poucas páginas, atingir e tocar o leitor com narrativas bem construídas, sem perder de vista a história e quem a lê.
O Impostor presenteia o leitor com, além de narrativas bem construídas, momentos de destacada qualidade. É o caso de Diablo. Talvez o momento de maior relevância da obra, o conto, manejado com maestria, foi destaque no Prêmio Paulo Leminski em 1997. A história traça um retrato pungente das brigas de galo. Rinhas, treinadores, lutadores. E um galo, que dá nome ao conto, “que tinha o direito de lutar pela vida como se fosse um homem de verdade”.
Mais intimista e lírico, o sensível Sobre a arte de voar também merece nota. Um conto de abordagem oposta à de Diablo, que revela versatilidade na composição de O Impostor. Da narrativa crua, Tenfen passa, em Sobre a arte de voar, para uma história construída sobre um viés poético. Evoca imagens oníricas e lembranças de infância, deixando transparecer uma abordagem mais pessoal. Aqui, é a empatia que Tenfen recruta para conquistar o leitor.
O insólito é presença marcante no volume. Em Trevas Azuis um protagonista foge de si mesmo em uma narrativa que nos lembra de Quero ser John Malkovitch, do roteirista Charlie Kaufman. O Casarão da Esquina, dedicado à memória do pai do romance policial — Edgar Allan Poe — resgata os contos de suspense sobrenatural que ficaram famosos a partir do autor americano. Estilo similar aparece em Coceira, em Os crimes de Noé Gonçalves e em Canibal. O insólito ou o sobrenatural surgem como se remexidos do fundo de um baú repleto do universo das revistas pulp com suas aventuras de horror e suspense.
Merece nota ainda o conto Vergonha, que retoma uma narrativa interiorana salpicada com notas líricas, em que o autor consegue dar nova vida a um tema já repetido — a iniciação sexual de um menino de interior — ao redigir uma breve narrativa que mais orbita o fato do que se concentra sobre ele.
Encerra o volume o conto que dá título ao livro. O leitor que já tenha conhecido obras anteriores do autor irá reparar no resgate da narrativa urbana, na trama policiesca de reviravoltas mirabolantes, nos cantos escuros, nos personagens misteriosos, na violência da noite, lembrando passagens e estilo de Entre a brisa e a madrugada e Um cadáver na banheira.
Se, em alguns contos, é possível o leitor encontrar uma busca por criar uma composição mais rica de leituras, em outros encontra textos de pura fruição, onde a riqueza se encontra não na diversidade de leituras, mas no manejo dos elementos da narrativa. E isso, Tenfen demonstra que domina.
terça-feira, 9 de março de 2010
Orelha para Pequeno Álbum
Quem estiver na cidade, poderá conferir o lançamento oficial do livro no dia 11 de março, a partir das 20 horas, no Bar e Restaurante Farol, junto à Praça do Estudante. Devo estar por lá; nos encontramos.
Entre estes grandes nomes sorriem, ainda, como de fotogramas amarelados pelo tempo, figuras que resgatam memórias mais introspectivas, como em Reminiscência, de memórias expostas, gengivas nuas e sorriso ancião inocente. Com esta sensibilidade e aquela intertextualidade, este Pequeno Álbum se revela igualmente metaliterário. O autor, olhando para as figuras deste álbum, parece querer encontrar, em primeiro lugar, a si mesmo. Em Composição compõe "silêncios como quem compõe versos" e explica: "É nestes silêncios que me encontro e onde podem me encontrar como realmente sou!". Nos contos e textos de Pequeno Álbum podemos ver o escritor se dobrando sobre o próprio texto, sobre o próprio fazer literário, como no premiado Ítalo, conto de construção ímpar e riquíssima leitura. Teresa e O Velho, a Velha e o Violino apresentam ainda personagens belíssimos em narrativas sensíveis que exploram os limites desta prosa poética proposta por Viegas.
É tocante, é incômodo, é lírico. É necessário, este Pequeno Álbum. Porque nos lembra que "poesia não se pode ler (...) a poesia vivemos".
Apreciando este álbum observamos o autor, pouco a pouco, tentar desvendar-se, retomar um passado, vislumbrar um futuro, resgatar e desnudar a si mesmo e a seu próprio texto. É quase sem perceber que, ao fim do volume, nos quedamos nós mesmos desnudados e expostos ali, estampados nestas páginas.
terça-feira, 5 de agosto de 2008
Poesia Twist. Poemas com um toque de limão.
Não foi fácil ler Falações sem fazer careta. Labes destila um suco ácido e, com freqüência, azedo. E eu cá com minhas aftas e cortes, volta e meia senti arder os versos do autor. Falações se divide em quatro momentos distintos. Altenatintas abre com o solitário Até Quando e já pincela os primeiros elementos melancólicos que vêm se repetir mais tarde, e lembra, com uma escada 'reta em caracol', que “não se pode voltar atrás / quando se diz que ama”. Fiação e Tecelagem traz a acidez na leitura da vida operária “de 8 horas trabalhadas / e 16 de aflição” que termina com “casa na praia encostada / carro do ano passado / e plena realização: / artrite artrose bursite / aposentadoria e caixão”. É seguido pelo azedo Manhã, difícil de engolir como a constatação “Por que não respondes? / Meu Deus, / estás fria!”. No capítulo se destaca ainda O Barco, que atenta em letras garrafais “NUMA CIDADE VITRINE / FORA DE TOM É PECADO”, num retrato de um barco que “porque não navega / não pode ser afundado”. Este poema, ao lado de Fiação e Tecelagem, torna difícil sair de manhã e não rever suas linhas na nas ruas da cidade. Mas ainda assim, tudo parece passar voando, quase despercebido pela maioria. Como descobre Passarinho com seu final seco e despreocupado “Que foi isso? / e virou-se para o lado. / Passarinho na janela, / disse ela”. Assim fica mais fácil concordar com o narrador em Bi-bap-dera-nudara, que pede: “Acende, Maria, o pavio / e deixa a vida explodir”. O capítulo encerra escarrando suas verdades, tentando aparentemente expeli-las, livrar-se delas com Expectorante, que tenta com força “Cuspir fora saudade, lembranças. / Cuspir fora saudade, tristeza. / Cuspir e ver escorregar. / Verde”.
Em Reflexscintos destaco o lírico Canção que parece, junto com Sapiência Cartesia uma tentativa do autor, não em definir-se, mas em encontrar-se. Chamou-me a atenção o fato de que, nos dois poemas, o poeta o é, através dos outros, nunca de si mesmo. Em Canção “Eu me chamo aquilo que dizes”, “Eu me chamo o nome que vais dizer”, “Eu chamo / a tua alegria / ao repetires o som / do meu nome” e em Sapiência Cartesiana “E os que me querem saber / acabam me sendo. / Sou todos os que me sabem eu”. O poeta, procurando encontrar-se, perde-se (ou finalmente encontra-se) no leitor. O autor deixa-se arrebatar novamente pela estética crua, curta e grossa no impactante In Vitro que encerra o beijo com trinta e dois dentes quebrados. A saudade também deixa sua acidez em Ontem e Simplificante, uma saudade que arde como limão em boca machucada.
Febres traz uma série de dez poemas. O capítulo tem, evidentemente, certa unidade semântica e mesmo estética, mas esta é solta, flertando com o son sense, os poemas bastante independentes. Dentre as febres de Labes, chamo atenção para Febre#07 onde o tornar-se adulto é chato mas sem remédio, Febre#08 com o poeta em busca do grande poema, mas termina entregando-se “escreveria o grande poema / se soubesse por que”. O ótimo Febre#10 retorna com toda a acidez e inunda nossas chagas com o ardor da constatação: “Caíram-me os pêlos, / a origem insiste. / Bicho”. Febre#12 retoma o ataque ao “Produto financiado / por bandas de rock inglês / e poetas franceses / que não compreendes”.
Por fim, intransiGENTES, encerra os capítulos num apanhado da obra. para paula (assim, em minúsculo mesmo) brinca com as palavras “plantandolorosamente um canto”. O Filósofoso “Tentou viver de idéias / e morreu de fome” e acabou por “pôr para fora as verdades / que só a ele pertenciam, e mais ninguém”. Em Iminência percebe-se “Que não valia a pena / viver sob certas iminências” e nos afogamos junto com os personagens. Mas em Findados o narrador ensina: “Vós, que morrestes, o mundo, / o mundo é sempre dos vivos”. E retoma com Cíclico sobre aqueles que se deixaram afogar: “(e há uma semana enterrado, / o que terá pensado / quando o primeiro verme matutino / veio lhe perfurar a coxa)”. Ainda assim Fatalidade parece lembrar que esse mesmo afogamento é inevitável: “Causa mortis: afogamento: não parava de chorar.” Retomando estas constatações Ratos encerra rápido, dinâmico (quase musical) e ainda ácido um apanhado de verdades roídas e a presciência “Vai ter pesadelo, filhinho / e acordar com a cara inchada”.
A obra conta ainda com um ensaio de José Endoença Martins, localizando Labes dentre os poetas blumenauenses. Vale a pena ler até para descobrir novos nomes da poesia de Blumenau.
Ao espremer Falações, o leitor deve também se deparar com o mesmo sumo ácido que me chamou a atenção. E cuidado: se você também tiver algumas fissuras, a leitura pode lhe arder à boca. Se há algo de doce em Falações — e há, se dúvida — serve para aumentar o contraste com a acidez da obra. Mas se você for como eu, vai perceber que não é tão fácil largar Falações, mesmo fazendo careta. Talvez a resposta não esteja impressa no livro, mas uma pista descobri na página de rosto. Adquiri o livro do próprio autor, no lançamento, com o devido autógrafo e dedicatória. Como de costume, só li a dedicatória em casa, quando fui dar as primeiras folheadas no livro, no dia seguinte. E lá estava, na caligrafia de Labes: “Eu insisto: há que se escrever, há que se escrever mais. Vamos, então, adiante”. Talvez seja isso. Ainda que tenhamos o azedume e a acidez dos limões, é preciso escrever. É preciso ler. Afinal, como dizem por aí, se a vida nos dá a acidez dos limões, façamos, pois, limonada. Ou poesia.
quinta-feira, 5 de junho de 2008
Espantalhos, pedras e poemas
O tipo impreciso sobre a capa vermelha revela um pouco o que se passa nas páginas de “De espantalhos e pedras também se faz um poema”. Impressas em linotipo, as páginas do último livro de Viegas Fernandes da Costa, ainda trazem as marcas dos golpes do metal sobre o papel. A textura, prenunciada na arte da capa, camufla-se no interior sob a tinta das letras de contornos imprecisos, às vezes fugidios, como que transbordando-se do poema.
Ao folhear “De espantalhos...” vê-se no verso das páginas que ficam para trás as marcas deixadas pelos poemas já lidos. O texto anterior emerge sob o posterior. Um texto que passa, mas que fica marcado.
As cerca de 60 páginas são divididas em três momentos.
O Livro das Pedras nos apresenta um breve jardim de medusa. Onde as pedras parecem guardam memórias, expressões. Gastas pelo tempo, lembram que “as pedras também não são eternas”. A unidade temática que o autor nega à obra, aqui se revela no tema das pedras, protagonistas dos cinco poemas. Com destaque para “A Pedra” — “A pedra no meio do rio, afronta / como pedra no meio do rio, / em silêncio, o tempo e as águas”. É possível ver surgir um diálogo entre este e “A garça sobre a pedra”
“Amanhã já não serei mais esta pedra...
E meus olhos já não terão mais para onde voar.
Amanhã serei memória, talvez
Ou os tantos grãos, pequenas pedras,
Lançadas na ampulheta”.
O diálogo entre a pedra silenciosa, austera e milenar que, solitária e inevitavelmente, deixa de ser pedra para tornar-se, mesmo ela, areia lançada da ampulheta, ao redor de outras tantas pedras. Parece que da sacada de onde olha o narrador do segundo poema, pode-se ver, sob a garça (ou além dela) a pedra do primeiro.
Espantalhos no Deserto abarca uma temática mais urbana, contestadora. Os golpes do tipo, marcando o papel, parafraseando os golpes do autor através dele. Notas para “Canto Guajira”, revelando uma América Latina onde “os condores dão lugar aos abutres, como no passado, as lhamas deram lugar aos cavalos dos deuses”. “Da noite os olhos homicidas”, ganha mais dimensão quando chegamos ao “Noite Urbana” (já em Ecos de Mim, último momento da obra). De novo vemos o olhar de um poema posterior cobrir o anterior. Pontuo ainda os poemas “Espantalhos no Deserto” e “Impressões do Vale” com suas formigas, por demais, zelosas.
Finalmente em Ecos de Mim o tom torna-se mais intimista. Ecos abre com “Itinerário” — “Conheci um Cristo / santo e crucificado / nas palavras dos evangelhos”. Destaca-se ainda o doído “Cântaro das minhas náuseas” — “carrego a desventura do sonho / como meu bem mais precioso (...) fecharam-se as portas das minhas igrejas / os meus santos, descobri-os de gesso”.
“De espantalhos e pedras também se faz um poema” é um livro que se lê rápido, mas que deve ser apreciado sem pressa. Como foi impresso. Para que as marcas que marcam o papel, possam melhor marcar o leitor. Um livro de folhear, de saltar páginas, de encontrar, ao meio de uma frase, uma troca de tipo ou uma serifa inesperada. Se o autor, em “Arqueologia da Memória” sonhava em quedar-se eterno na força do verbo, em “De espantalhos...” a força do verbo chega a marcar as páginas.